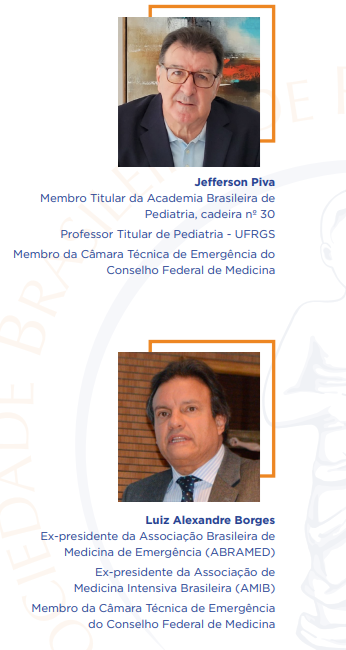 Superlotação das Emergências: um problema insolúvel, “um novo normal” ou haveria espaço para planejamento?
Superlotação das Emergências: um problema insolúvel, “um novo normal” ou haveria espaço para planejamento?Na perspectiva organizacional da saúde, os serviços de emergência funcionam como sistemas de “vasos comunicantes”, tendo seu fluxo e celeridade regulado por dois grandes componentes: a demanda ambulatorial e a assistência hospitalar. Quando a demanda externa supera a capacidade instalada dos Serviços de Emergência Hospitalares (SEH) ou reduz-se a capacidade de transferências e altas do serviço, ocorre a Superlotação das Emergências com todos os seus graves efeitos, como o aumento do tempo de espera, a desassistência, a insatisfação de pacientes, familiares e o desgaste da equipe.
A porta de entrada das emergências é constantemente pressionada pela demanda da comunidade, que se acentua muito por ocasião de catástrofes não previstas (incluindo aqui epidemias) e das previsíveis afecções respiratórias que ocorrem anualmente a partir do outono e inverno. Para enfrentar estas situações, os serviços de emergências têm se organizado com a utilização de modelos de triagem, desenvolvimento de protocolos, aumentando sua capacidade diagnóstica, utilizando profissionais especificamente treinados e habilitados nesta área, medindo sua eficiência com indicadores assistenciais e de qualidade. Porém, mesmo assim, a cada ano repete-se o mesmo quadro, de superlotação e eminente colapso nos serviços de emergências nos meses de outono e inverno.
Via de regra, os serviços de Emergência dos hospitais são criados em resposta a uma demanda assistencial local aumentada, porém, sem o planejamento necessário. Não há um estudo entre a demanda populacional naquele distrito ou cidade e o tamanho do Serviço de Emergência a ser instalado, visando celeridade e eficiência no atendimento. Assim, além do fator numérico, dever-se-ia avaliar a complexidade e a real necessidade destes pacientes, o que irá determinar as dimensões de estrutura física, tecnológica e pessoal especializado para atendê-los. Por outro lado, não há como uma unidade hospitalar dar conta de todas as doenças agudas que são atendidas no serviço de Emergência. Por isso, ao abrir um serviço de emergência, deveria haver a preocupação de estabelecer convênios com outras instituições visando agilidade na referência e contrarreferências para determinadas linhas de cuidado (por exemplo: trauma, oncologia, acidentes etc.).
Outros fatores que impactam na relação da demanda dos pacientes e na capacidade das Emergências é o aumento progressivo da população, a ausência do médico de família, do médico do bairro, o aumento da expectativa de vida, maior prevalência de pacientes com doenças crônicas, entre outros.
Esta superlotação pode ainda se agravar frente a algumas situações imprevisíveis de aumento na demanda externa, como no caso de grandes catástrofes ou epidemias de início súbito e descontrolado (por exemplo: gripe A, em 2009). Nestes episódios, as medidas de gerenciamento dos serviços de emergência são implementadas e ajustadas sob a pressão da demanda, com aprendizado e correção de rumos em tempo real (relembremos aqui o enfrentamento da covid-19 em 2020 e 2021). Em outras situações, como no caso das doenças de inverno, sabe-se com antecedência que o sistema será pressionado apenas se desconhecida a intensidade e a duração desta demanda aumentada. Exatamente nestas situações previsíveis é que estamos falhando na adoção de medidas precoces de integração dos dois sistemas (ambulatorial e hospitalar), evitando o colapso dos serviços de emergências.
Cabe destacar nesta análise que uma boa parcela de pacientes atendidos em emergência, após obter a estabilização clínica, necessitará complementar sua investigação e/ou tratamento com internação hospitalar. Portanto, para manter sua capacidade operacional, os Serviços de Emergência dependem da disponibilidade de leitos hospitalares de retaguarda. No caso de não dispor desta retaguarda hospitalar, o serviço de emergência ficará estagnado, desvirtuando-se da sua função e se transformando em uma área de internação com restrição à admissão de novos pacientes. Deve-se enfatizar que os Serviços de Emergência não foram criados ou preparados para terem pacientes internados. Um estudo recente mostra uma relação direta de maior mortalidade nos pacientes que permanecem acima de 6 horas na Emergência (Jones S, Moulton C, Swift S, et al. Emerg Med J 2022; 39:168-173).
A dinâmica e fluxo de atendimento hospitalar impõe alguns “gargalos” que deveriam ser contornados e auxiliariam na redução da superlotação dos serviços de Emergência, tais como:
• Ter uma política de altas hospitalares efetiva, com apoio da gestão diretiva, reduzindo tempos de permanência desnecessários, privilegiando o fluxo interno.
• Distribuir o fluxo de pacientes cirúrgicos eletivos durante toda a semana, ao invés de concentrar em poucos dias.
• Manter vigilância contínua dos fluxos do PS, Internação e Centro Cirúrgico e ativação de planos de capacidade plena para as situações de risco para o PS onde esteja muitos pacientes com laudos de internação.
• Abertura de leitos hospitalares de baixa complexidade ou de transição e mesmo atendimentos a domicilio para alguns casos especiais onde o atendimento primário se impõe.
Na perspectiva pediátrica, a retaguarda de leitos hospitalares foi reduzida em 18.000 leitos nos últimos dez anos no Brasil. Ou seja, a internação hospitalar pediátrica fora de períodos epidêmicos já está em seu limite e, evidentemente, entra em colapso com o acréscimo das afecções respiratórias nos meses de outono e inverno. Assim, o fluxo de pacientes, a resolutividade e eficiência das emergências pediátricas ficam absolutamente comprometidas. Deve-se ressaltar que esta mesma redução de leitos pediátricos ocorreu também em países da América do Norte. Porém, nos meses de inverno o sistema de saúde destes países promove o aumento do contingente de profissionais nos serviços pediátricos (contratos temporários), alocação de novos leitos pediátricos temporários, permitindo agilidade e aumento no atendimento de pacientes pediátricos nestes períodos, sem estagnar o serviço de emergência pediátrica.
Obviamente, sabemos que no Brasil existem entraves burocráticos que inviabilizam tais iniciativas (contratos temporários). Por outro lado, manter o mesmo contingente de leitos e recursos de pessoal para enfrentamento do aumeno da demanda nos meses de outono e inverno, passa a impressão que os gestores não fizeram a leitura correta do que ocorre anualmente de forma repetitiva, que requerem medidas preventivas e eficazes neste período. Cremos que frente ao quadro real que se apresenta ano a ano, com a morte evitável de inúmeras crianças, há espaço para que legisladores e gestores de saúde encontrem uma solução que desate este nó burocrático e permita que o sistema de saúde se ajuste à necessidade operacional. Desta forma, poderíamos ter um aumento no número de profissionais para atendimento de Emergência Pediátrica, com reforço e ampliação de horário nas diversas UPAs (descentralização) e postos de saúde; além da ampliação do número de leitos pediátricos nos hospitais das diversas regiões (municípios) com equipes treinadas e habilitadas com este tipo de paciente.
Um outro aspecto fundamental na solução deste complexo desafio das emergências superlotadas é a presença de profissionais médicos qualificados, especialistas em Medicina de Emergência, o que faz toda a diferença na qualidade do atendimento, como na agilidade e eficácia no diagnóstico e tratamento. Felizmente, nesta última década no Brasil, a especialidade de Emergência e a área de atuação de Emergência Pediátrica foram reconhecidas, havendo hoje vários centros com programas de residência ativos, o que permitirá que em um futuro não muito distante tenhamos profissionais adequadamente qualificados disponíveis na maioria dos serviços de Emergência de nosso país